
Uma tendência que vem ganhando força nos últimos anos é a substituição de postais e telefonemas de Natal por SMS. Ia escrever “simples SMS” mas o problema é mesmo esse. Para mim e para os milhares de utilizadores diários deste serviço, as SMS de Natal não são nenhum drama. Podemos responder a todas, com mensagem padronizada ou pessoal, ser selectivos ou optar por ignorar toda a gente por igual.
Mas sejamos sinceros, a grande emoção é para os cinquentões (incluam-se alguns quarentões e sessentões no grupo). Para esta malta dos cinquenta e tal, a mensagem de Natal tem de ser retribuída, não se vá pensar que são mal-educados. Ou, pior ainda, tecnologicamente ultrapassados. Então, dá gosto ver o entusiasmo com que esta gente acolhe primeiras mensagens natalícias. Pega-se no telefone de imediato e lê-se a mensagem em voz alto ao cônjuge – a maioria das mensagens dos cinquentões destinam-se ao casal ou à família.
É então tempo de responder. Arranje-se um banco confortável, com aquecimento q.b., porque os pés podem arrefecer, mas não demasiado, porque a tarefa é árdua e ao fim de uns minutos chegam os calores. E lá vai disto: procura-se o menu certo, não sem alguns percalços, e finalmente, a grande aventura de descobrir as teclas certas para cada letrinha. Nada demais: qualquer quarto de hora basta, se a meio não se carregar no “apagar mensagem” ou se o a bateria do telemóvel não se descarregar entretanto.
Por fim, orgulhoso pelo feito tecnológico, o nosso Bill Gates cinquentão está pronto para retomar a conversa com a família – como é óbvio, enquanto se escreve uma mensagem, o resto do mundo nem paisagem é – e trincar um filhós. Até que chega nova SMS. Limpa-se o açúcar dos dedos, pega-se no telemóvel e o ciclo repete-se. Ao fim de umas cinco ou seis, podemos avaliar a personalidade do cinquentão: os persistentes sacodem o açúcar dos dedos com cada vez mais minúcia; os impacientes começam a bufar de cada vez que ouvem o apito do telemóvel.



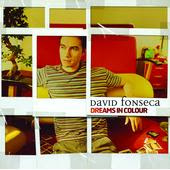


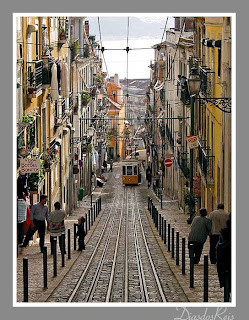




 Permitam-me discordar do título deste
Permitam-me discordar do título deste 